Graciliano Ramos e as vidas secas do Brasil profundo
Entre as obras mais emblemáticas da literatura brasileira do século XX, poucas conseguem reunir com tanta força o realismo, a crítica social e a beleza do essencial quanto Vidas secas, de Graciliano Ramos. Publicado em 1938 pela editora José Olympio, este romance breve, seco e sem adornos, retrata a vida de uma família do sertão nordestino — Fabiano, Sinhá Vitória, seus dois filhos sem nome e a cadela Baleia —, figuras condenadas a sobreviver em uma paisagem onde a seca, a fome e a injustiça são cotidianas.
Nesta edição da nossa seção “Hoy, ¡libro!”, compartilhamos um percurso pela obra, seu autor e algumas das leituras críticas mais recentes que nos ajudam a entender por que este clássico continua sendo uma das representações mais profundas do Brasil real.
O autor: um sertanejo entre a literatura e a consciência social
Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892, em Quebrângulo, uma pequena cidade do norte de Alagoas, e faleceu em 20 de março de 1953, no Rio de Janeiro. Jornalista, funcionário público e prefeito de Palmeira dos Índios (Alagoas), Ramos fez parte da geração modernista brasileira que, desde as primeiras décadas do século XX, buscou construir uma identidade nacional autêntica por meio da arte e da literatura.
O Modernismo brasileiro foi muito mais do que um movimento artístico: implicou uma revisão crítica da história, da língua e da cultura, uma tentativa de definir a brasilidade. Nesse contexto, os escritores modernistas — entre eles Mário e Oswald de Andrade, Manuel Bandeira ou Cândido Portinari, na pintura — recuperaram elementos populares e regionais, das culturas indígenas aos tipos sociais do interior do país.
O artigo “Graciliano Ramos: histórias de uma vida, uma vida de histórias”, de Helton Marques, publicado na revista Estudos em Letras em 2022, revisa a biografia do autor e enfatiza o papel que as vivências do sertão desempenharam em sua trajetória vital e literária (Marques, 2022). Nele, cita-se um texto do próprio Ramos que ilumina seu método e sua origem:
“Nasci na zona árida, numa velha fazenda, e ali passei quase toda a minha infância, convivendo com o sertanejo. (...) Os meus personagens não são inventados. Eles vivem em minhas reminiscências, com suas maneiras bruscas, seu rosto vincado pela miséria e pelo sofrimento.”
Marques, 2022, p. 1
Essa conexão íntima entre biografia e literatura é essencial para compreender sua obra. Marques também sublinha um dos episódios que marcaram a vida do escritor: Graciliano Ramos foi preso durante o Estado Novo, acusado injustamente de comunista — uma experiência que o transformou profundamente. No texto, o autor menciona o artigo de Ruy Facó, publicado em 1945 no jornal Tribuna Popular:
A prisão abriu mais os olhos de Graciliano Ramos, trouxe-o mais para perto da vida, fazendo-o enxergar a vida por ângulos até então imperceptíveis. Era o caminho aberto para sua última resolução, resolução mais importante de sua vida: o ingresso no Partido Comunista. Lembremo-nos que na prisão, intimidado pela polícia política a assinar um documento pelo qual se ‘obrigaria a abandonar suas atividades de comunista’, Graciliano recusou-se terminantemente a fazê-lo, mesmo não sendo comunista, como de fato não o era, então. Preferiu as torturas da prisão, que o puseram gravemente enfermo, a submeter-se a humilhação semelhante.
MArques, 2022, p. 14
O contexto de Vidas secas
Publicado em 1938, Vidas secas surge em meio a um Brasil que começava a se industrializar, enquanto o Nordeste permanecia imerso na pobreza estrutural. O romance se passa no sertão nordestino — uma região árida, castigada pela seca — e retrata a vida dos chamados retirantes, migrantes que se deslocam em busca de trabalho e sobrevivência.
Esse mesmo universo aparece também no quadro Retirantes (1944), de Cândido Portinari, pertencente ao acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP). Ambas as obras — a pintura e o romance — se complementam em sua crítica à desigualdade e em seu retrato dos despossuídos do Nordeste brasileiro.
A pesquisadora Ana Amélia M. C. Melo, no artigo “Vidas Secas, style and social critique”, publicado na revista Estudos Sociedade e Agricultura, analisa como Ramos incorpora ao romance uma crítica incisiva à estrutura social do país — ao latifúndio, à concentração de poder, à violência rural e à desigualdade persistente (Melo, 2006).
Na parte final de seu estudo, Melo reflete sobre a contradição entre o Brasil moderno e o Brasil profundo do sertão, mostrando como a obra evidencia um país dividido entre “o progresso e a miséria”, onde os personagens vivem entre a humilhação e a sobrevivência.
Segundo a autora, Ramos observava com ironia uma modernidade “mal ajustada”, que imitava modelos europeus sem resolver os problemas estruturais do país. Para ele, a modernidade brasileira era “uma vestimenta grande demais para um corpo social ainda descomposto pela herança colonial e pelo favoritismo político”. Para a autora, essa metáfora é ilustrada magistralmente no capítulo “A festa”:
The allegory of the contradiction between this modern Brazil and the sertão, or the backwardness, is found in clear detail in Vidas Secas. (...) Fabiano, Sinhá Vitória and the boys go to a Christmas party in the city. Their clothes and shoes are tight and poorly fit. These creatures accustomed to walking barefoot and nearly naked compose the very caricature of the project of Brazilian modernity. Their clothes, like those of the city people, were ‘short, tight and full of patchs’. Nevertheless, it was necessary to wear them at all cost to appear civilized, even if it was nothing more than an uncomfortable arrangement.
Melo, 2006, s/p.
Por meio dessas imagens, Ramos transforma o gesto cotidiano — vestir-se para parecer civilizado — em uma alegoria do fracasso da modernização brasileira: um disfarce incômodo sobre um corpo social desigual.
A vida mínima: estrutura e personagens
O romance, composto por treze capítulos, organiza-se como uma sequência de episódios independentes, mas coerentes entre si. A família de Fabiano vaga pelo sertão tentando sobreviver: foge da seca, encontra trabalho em uma fazenda, é explorada, humilhada e, ao fim, parte novamente. A estrutura cíclica reforça a ideia de repetição e fatalidade.
A linguagem de Ramos é concisa, direta, sem retórica. Em Vidas secas, as palavras são escassas como a água. Os personagens quase não falam — sentem mais do que dizem. Em uma das passagens iniciais, a cadela Baleia traz uma presa para alimentar a família:
Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinha Vitória beijava o focinho de Baleia, e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. E Fabiano queria viver.
Ramos, 2020, p. 12.
Esse preá — um pequeno roedor típico do sertão, semelhante a um porquinho-da-índia selvagem — é símbolo da precariedade extrema, mas também do afeto. O gesto de Sinhá Vitória, que beija o animal ensanguentado, é um ato de humanidade em meio à desolação. Mais adiante, no capítulo “Fabiano”, o protagonista reflete sobre sua própria condição:
– Você é um bicho, Fabiano. (...) Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades.
Ramos, 2020, p. 12.
Chamar a si mesmo de “bicho” não é aqui uma humilhação, mas uma afirmação de resistência primitiva: sobreviver, apesar de tudo. O romance se encerra com uma frase seca, circular, que devolve os personagens ao ponto de partida:
O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos.
Ramos, 2020, p. 124.
Crítica social e legado
A obra de Graciliano Ramos tem sido estudada sob múltiplas perspectivas: linguística, sociológica, filosófica e ecoliterária. O artigo “Vidas Secas de Graciliano Ramos: una visión del proletariado”, do pesquisador Freddy Monasterios (Revista Letras, 2009), interpreta o romance como uma manifestação cultural popular que dá voz às classes oprimidas do Brasil e de toda a América Latina (Monasterios, 2009).
Vidas secas se convierte en arma de transformación, en portavoz de las clases desposeídas no sólo del Brasil sino del resto de la América oprimida. (...) A través del habla escasa y natural de los habitantes del sertão, está presente el elemento popular de la novela, al igual que una dinámica social donde hay un choque entre la clase dominante y la oprimida. (...) Cuando comienza nuevamente la sequía, Sinhá Vitória hace la señal de la cruz, manosea el rosario y musita oraciones desesperadas, mientras «Fabiano resiste pidiendo a Dios un milagro».
Monasterios, 2009, s/p.
A força de Vidas secas reside justamente aí: em sua capacidade de transformar o cotidiano em denúncia, e o mínimo em símbolo universal. Outro estudo, publicado na Latin American Research Review por Luis Alfredo Intersimone, analisa o romance sob a ótica da linguagem, com especial atenção à oralidade e à escrita. Em “Habla y escritura en Vidas secas de Graciliano Ramos” (Intersimone, 2017), o autor mostra como os personagens carecem de uma voz própria dentro da estrutura social — e a escrita do narrador supre o silêncio dos marginalizados. Mais recentemente, o artigo “Vidas Secas e as relações de trabalho rural degradante no Brasil contemporâneo” (Carvalho & Santos, 2023) estabelece um diálogo entre o romance e as formas atuais de exploração no trabalho rural, confirmando a atualidade do texto como espelho da realidade brasileira contemporânea (Carvalho & Santos, 2023).
Uma leitura desde Salamanca
A professora Paula Pessanha Isidoro, da Faculdade de Filologia da Universidade de Salamanca, recorda ter lido Vidas secas durante sua formação universitária no Porto. Em uma intervenção gravada para o programa #BMQS, ela contou como a obra a impactou pela descrição das desigualdades sociais — tão próximas das retratadas pelo neorrealismo português, especialmente em autores como José Cardoso Pires.
Lia o livro no ônibus — conta Paula —, cercada do que chamou de migrantes diários: pessoas que todos os dias percorrem longas distâncias para trabalhar e manter uma vida digna. Pensava em Fabiano, em Sinhá Vitória e em seus filhos, e percebeu que essas vidas secas ainda existem.
Essa reflexão une passado e presente, literatura e vida: os retirantes de Graciliano não são apenas personagens de ficção, mas o espelho de milhões de pessoas deslocadas pela necessidade.
«A veces una novela es un desierto. Un espacio árido donde las palabras pesan tanto como el polvo en la garganta», assim é Vidas secas para Esther Gambi, companeira de microfones. Para ela, Ramos, com sua pluma concisa, romancea «un Brasil donde la miseria no tiene voz». A obra lhe deixou uma sensação de «un vacío hermoso», porque apesar de ser «una novela que no busca gustar», resgata a «humanidad que persiste cuando todo lo demás se ha secado».
Um clássico vivo na biblioteca do CEB
Vidas secas não é apenas uma obra literária: é uma radiografia moral e política do Brasil profundo. Por sua linguagem precisa e sua densidade simbólica, tornou-se um marco da narrativa social latino-americana. A austeridade do texto — essa prosa seca, sem ornamentos — corresponde à dureza do mundo que representa.
Mais de oitenta anos após sua publicação, o romance continua dialogando com o presente. As secas, os deslocamentos forçados, as desigualdades rurais e a luta por dignidade seguem marcando a vida de milhões de brasileiros. Ler Graciliano Ramos hoje é também uma forma de olhar para o coração de um Brasil que ainda resiste.
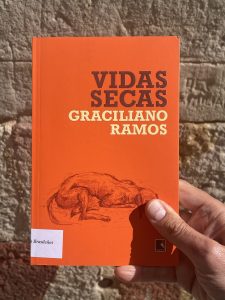 Na Biblioteca do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca você pode encontrar duas edições de Vidas secas em português, uma delas publicada em 2020, com um pósfacio atualizado e uma breve biografia do autor.
Na Biblioteca do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca você pode encontrar duas edições de Vidas secas em português, uma delas publicada em 2020, com um pósfacio atualizado e uma breve biografia do autor.
Encerramos com uma canção inevitável: “Asa branca”, composição de Luiz Gonzaga, na voz de Gilberto Gil. Uma canção que, assim como o romance, recorda que a seca pode ressecar a terra — mas nunca a esperança.
Referências:
Carvalho, C. A. das M., & Santos, L. de B. (2023). Vidas secas e as relações de trabalho rural degradante no Brasil contemporâneo: transdisciplinaridade entre direito e literatura. Revista de Direito, 15(02), 01–33. Recuperado el 29 de octubre de 2025, de https://doi.org/10.32361/2023150216561.
Graciliano Ramos. (2025, 29 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: octubre 29, 2025, recuperado de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Graciliano_Ramos&oldid=164676687.
Intersimone, L. A. (2014). Habla y escritura en “Vidas secas” de Graciliano Ramos. Latin American Research Review, 49(3), 45–63. Recuperado el 29 de octubre de 2025, de http://www.jstor.org/stable/43670193.
Marques, H. (2022). Graciliano Ramos: histórias de uma vida, uma vida de historias. Estudos em Letras. Recuperado de https://periodicosonline.uems.br/estudosletras/article/view/7281/5453.
Melo, A. A. M. C. (2006). Vidas secas, style and social critique. Estud. Soc. Agric., vol. 2. Recuperado el 29 de octubre de 2025, de http://socialsciences.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-05802006000200001.
Monasterios M., Freddy J. (2009). Vidas secas de Graciliano Ramos: una visión del proletariado. Letras, 51(80), 241-262. Recuperado en 29 de octubre de 2025, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832009000300008&lng=es&tlng=es.
Ramos, G. (2020). Vidas secas. Rio de Janeiro: Record.

